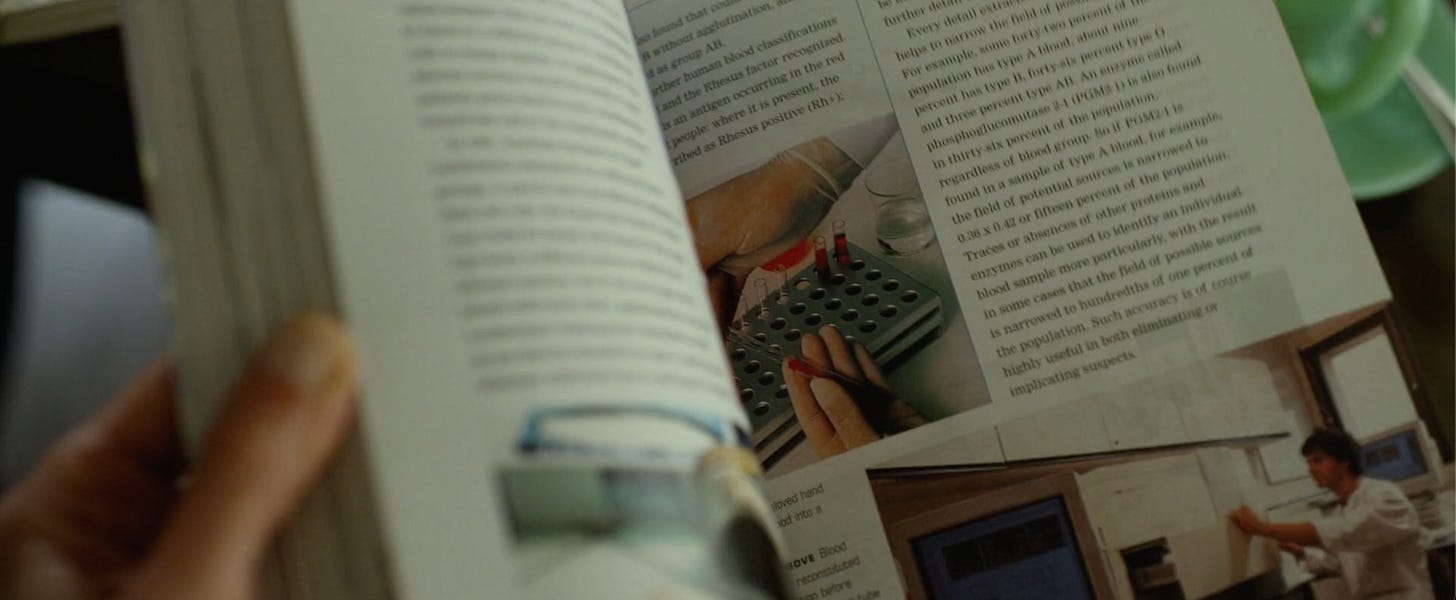Money shot
Alguns apontamentos sobre “The Killer”, de David Fincher
Eu assisti The Killer pouco depois que ele estreou nos cinemas. Como é praxe da Netflix, o filme ficou em cartaz por poucos dias, e em poucas salas (o suficiente para classificar o longa em festivais e competições de prestígio, como o Oscar). Desde então, fiquei ruminando ele na minha cabeça.
Ao invés de fazer uma longa análise ou ensaio sobre o filme, como geralmente faço aqui nesta coluna, optei por reunir alguns pensamentos sobre o filme. Fragmentos de pensamento, interconectados ou não. Impressões. O filme, de certa maneira, nos convida a esse tipo de olhar fragmentado, justamente porque no seu centro existe um enigma insolúvel.
Sugiro aos leitores que revejam o filme, caso não o tenham fresco em suas mentes, antes de ler o ensaio. Não vou passar pela sinopse, por exemplo. Sugiro também, por fim, que os ensaios sobre Fincher que publiquei nos últimos dias e semana sejam lidos, pois assisti The Killer com o viés que expus naqueles textos.
O personagem principal
Nós nunca descobrimos qual é o verdadeiro nome do assassino de aluguel interpretado por Michael Fassbender. Ele possui inúmeros documentos falsos, identidades postiças com nomes retirados de personagens de clássicos sitcoms americanos. Dada sua obsessão com músicas de The Smiths, talvez devêssemos chamá-lo de Mr. Smith. Smith, como Silva aqui no Brasil, é o sobrenome mais comum que existe. Chamá-lo de Smith é a mesma coisa que chamá-lo de João Ninguém - John Doe.
Esse é um aspecto compartilhado com outros protagonistas de Fincher: pessoas sem identidade alguma. Seja Jack/O Narrador (Edward Norton, em Clube da luta), ou Nick Dunne (Ben Affleck, em Garota exemplar), Nick Van Orton (Michael Douglas, em Vidas em jogo), Meg Altman e Burnham (Jodie Foster e Forrest Whitaker, em Quarto do pânico) e até mesmo Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg, em A rede social), esse tipo de personagem amorfo, quase uma não-pessoa, é recorrente na filmografia de Fincher. No caso desses três que citei, eles compartilham também características com o arquetípico fall guy ou patsy - poderíamos chamá-los, aqui, de “laranjas” ou “bobos”. Pessoas que não entendem a si mesmas (pois não enxergam a si mesmas) e, por consequência, não entendem o resto do mundo (que também não conseguem enxergar). O fall guy é o típico herói noir que se vê enredado em tramas complexas e paranóicas que invertem a sua percepção de mundo. Eles acham que entendem - ou que controlam - alguma coisa, quando é o exato oposto. Podemos dizer que é também Bryan Mills (Brad Pitt) em Se7en. A jornada de Robert Graysmith (Jake Gylenhaal) em Zodíaco é justamente a de como deixar de ser um bobo. A sua última cena no filme é quando ele entra na loja de ferramentas Ace e confronta Arthur Leigh Allen (John Carroll Lynch), o principal suspeito de ser o Zodíaco, com um olhar indecifrável, misto de triunfo e resignação - ou seja, não muito diferente de como o detetive Somerset (Morgan Freeman) termina em Se7en.
O Assassino (diabos, vamos chamá-lo de Smith); Smith, portanto, se insere nessa mesma categoria de personagem. Ele também acha que pode controlar o mundo, ele também se acha infalível, e acredita sempre estar um passo adiante. Ele também passa conselhos de pesudo-sabedoria (bullshit, na verdade) que parecem ter saído da boca de Tyler Durden (ele mesmo um personagem imaginário, fruto da imaginação do bobo Jack/O Narrador):
SMITH: Desde o início da história, poucos sempre exploraram muitos. Esta é uma pedra angular da civilização. O sangue e a argamassa que unem todos os tijolos. Custe o que custar, prove-se de que você é um dos poucos, não um dos muitos. [From the beginning of history, the few have always exploited the many. This is the cornerstone of civilization. The blood and mortar that binds all bricks. Whatever it takes, make sure you're one of the few, not one of the many.]
SMITH: A necessidade de se sentir seguro. É uma ladeira escorregadia. O destino é um placebo. O único caminho de vida, aquele atrás de você. Se, no breve tempo que todos temos, você não consegue aceitar isso, bem, talvez você não seja um dos poucos. Talvez você seja como eu. Um dos muitos. [The need to feel secure. It's a slippery slope. Fate is a placebo. The only life path, the one behind you. If, in the brief time we're all given, you can't accept this, well maybe you're not one of the few. Maybe you're just like me. One of the many.]
SMITH: O ceticismo é muitas vezes confundido com cinismo. A maioria das pessoas se recusa a acreditar que o Grande Além não passa de um vazio frio e infinito. Mas eu aceito isso, junto com a liberdade que advém do reconhecimento dessa verdade. [Skepticism is often mistaken for cynicism. Most people refuse to believe that the Great Beyond is no more than a cold, infinite void. But I accept it, along with the freedom that comes from acknowledging that truth.]
Não é só que ele é uma não-pessoa: ele também fala platitudes. O tipo de platitude que um tough guy cínico diria em um film noir (particularmente, um film noir ao estilo de Jean Pierre Melville ou Takeshi Kitano, saturado pela filosofia do “homem absurdo” de Albert Camus).
Mas podemos compreender The Killer numa chave semelhante a Zodíaco: como uma trama de (re)educação. Ele deixa de ser um bobo, ou ao menos começa a deixar de ser uma não-pessoa que vive numa irrealidade, para viver em uma realidade, nem que seja em uma paródia grotesca de um final feliz. Smith e sua companheira (Sophie Charlotte), deitados em uma espreguiçadeira, em uma praia paradisíaca - poderia ser o final sonhado por tantos protagonistas de Michael Mann, não fosse pelo fato de que a mulher de Smith está completamente deformada pelos brutais ataques que sofreu no começo do filme. É um pouco como a célebre constatação de Fincher a respeito de Hollywood: “Não sei o quanto os filmes devem entreter. Para mim, estou sempre interessado em filmes que cicatrizam. O que adoro em Tubarão (1975) é o fato de nunca mais ter nadado no oceano.”
II. Não-lugares
Smith é uma não-pessoa que habita não-lugares. Aeroportos, estacionamentos, cadeias de fast food, supermercados, storages. Lugares homogêneos, uma paisagem que se repete e se reproduz em qualquer lugar do mundo, pois são lugares marcados por justamente por seu caráter amorfo e sem especificidade. De acordo com Marc Augé, o antropólogo que cunhou o termo, o que define um lugar é justamente a sua identidade: a casa de uma família, o espaço ritual de uma tribo, por exemplo. O que caracteriza um não-lugar é justamente a sua falta de identidade. É apropriado, portanto, que Smith habite esses lugares. É o mesmo tipo de lugar que Jack/O Narrador habita em Clube da luta (vide a famosa cena em que seu apartamento é literalmente um catálogo da Ikea).
Fincher sempre esteve preocupado com não-lugares, e a forma como eles proliferaram nos Estados Unidos e no resto do mundo. Uma referência constante ao cinema de Fincher é a série de fotografias de Stephen Shore dos anos 60 e 70, American Surfaces e Uncommon Places. Shore viajou os Estados Unidos, e repetidamente registrou auto-estradas, quartos de motel, cruzamentos, estacionamentos, diners e a comida padronizada que ele comia nesses lugares. A auto-estrada integrou os Estados Unidos nos anos 60 e 70, alterando uma paisagem de lugares específicos para não-lugares amorfos, sem identidade. Não é de se surpreender que a auto-estrada ajudou o movimento hippie e a Revolução Sexual, assim como ajudou também o surgimento de serial killers como Edmund Kemper, Ted Bundy, Zodíaco, B.T.K (Dennis Rader), John Wayne Gacy e Gary Ridgeway (citado por Smith em The Killer). Também não é de se surpreender que Fincher tenha recorrido a Stephen Shore duas vezes em sua carreira: para criar o visual de Zodíaco e de Mindhunter.
ACIMA: Montagem de “Mindhunter”. ABAIXO: Fotografias de Stephen Shore.




ABAIXO: A sequência de créditos de abertura de “Garota exemplar”. Fincher nos situa em “Anywhere U.S.A.”.
Mas o mais interessante talvez seja o fato de como isso se figura em O curioso caso de Benjamin Button. Em seu livro, Augé fala que cada vez mais as pessoas nascem em clínicas e morrem em hospitais (nascem e morrem em não-lugares, portanto). Em Benjamin Button, vemos Benjamin (Brad Pitt) nascer em casa, em uma Louisiana que ainda vivia num passado pré-moderno, das plantations, para, ao final do filme, testemunharmos a morte de Daisy (Cate Blanchett) em um hospital, na iminência do furacão Katrina, que promete varrer Daisy, seu passado e seus memórias (sua identidade, portanto).
III. Controle
Parte da educação que Smith passa pelo filme é o entendimento de que ele, na verdade, não possui controle sobre nada. Mesmo os assassinatos mais meticulosamente planejados, mais tediosamente rotineiros e previsíveis, estão sujeitos a imprevistos. A erros. A surpresas. Mas ele se ilude no começo do filme de uma forma bastante peculiar.
SMITH: Meu processo é puramente logístico, estritamente focado por design. Não estou aqui para tomar partido. Não me cabe formular qualquer opinião. Ninguém que possa me pagar precisa perder tempo me ganhando para alguma causa. Não sirvo a nenhum deus ou país. Não hasteio nenhuma bandeira. Se sou eficaz, é por um simples fato: Eu. Estou. Pouco. Me. Lixando. [My process is purely logistical, narrowly focused by design. I'm not here to take sides. It's not my place to formulate any opinion. No one who can afford me, needs to waste time winning me to some cause. I serve no god, or country. I fly no flag. If I'm effective, it's because of one simple fact: I. Don't. Give. A. Fuck.]
E também:
SMITH: Cento e quarenta milhões de seres humanos nascem todos os anos, mais ou menos. A população mundial é de aproximadamente 7,8 bilhões. A cada segundo, 1,8 pessoas morrem. Enquanto o 4.2 nasce nesse mesmo segundo. Nada do que fiz afetará essas métricas. [A hundred and forty million human beings are born every year, give or take. Worldwide population is approximately 7.8 billion. Every second, 1.8 people die. While 4.2 are born into that very, same, second. Nothing I've ever done will make any dent in these metrics.]
O uso de dados e estatísticas no discurso o ajudam a se distanciar das pessoas que vai matar - e da humanidade, como um todo. Afinal, o que significa, na prática, “4.2 pessoas”? Esse tipo de discurso dadocêntrico, ainda que possa ter o seu uso instrumental, termina que por ocultar a própria realidade humana. É aquilo que muitos chamam de “mentalidade Moneyball”, a técnica estatística e dadocêntrica empregada pelo dirigente de baseball Billy Beane, em 2001, para selecionar jogadores e vencer partidas, a partir de análises analíticas e matemáticas. A estratégia de Beane deu certo - catastroficamente certo, na verdade.
A mentalidade Moneyball, que faz parte da tal “revolução analítica”, logo se espalhou para outros esportes e mesmo setores da sociedade, como a cultura e a política. Em Hollywood, por exemplo, a mentalidade Moneyball garante a previsibilidade do sucesso a partir da combinação certa e precisa de fatores. O resultado é a Era de Franquias. O problema da mentalidade Moneyball é que ela fez a popularidade do esporte despencar nos Estados Unidos, e a cada ano os campeonatos atraem menos espectadores. Baseball se tornou um tédio (algo semelhante ocorreu até pouco tempo com a Fórmula 1, até que a FIA resolveu introduzir medidas que vão na contramão da mentalidade Moneyball). De acordo com Derek Thompson,
O estudioso de religião James P. Carse escreveu que existem dois tipos de jogos na vida: o finito e o infinito. Um jogo finito é jogado para vencer; há vencedores e perdedores claros. Um jogo infinito é jogado para continuar jogando; o objetivo é maximizar as vitórias de todos os participantes. O debate é um jogo finito. O casamento é um jogo infinito. As eleições intercalares são jogos finitos. A democracia americana é um jogo infinito. Muito sofrimento desnecessário no mundo vem de não saber a diferença. Uma briga feia pode destruir um casamento. Uma eleição contestada pode desestabilizar uma democracia. No beisebol, vencer a World Series é um jogo finito, enquanto o crescimento da popularidade da Major League Baseball é um jogo infinito. O que aconteceu, creio eu, foi que o jogo finito do beisebol foi resolvido tão completamente que o jogo infinito foi perdido.
O problema do baseball, assim como filmes hollywoodianos, como Thompson nota, é que eles - assim como toda e qualquer atividade cultural - não são sobre a vida, mas sim sobre viver.
Então, sim, eu me importo com o lado negro do Moneyball. O físico de partículas ganhador do Nobel, Frank Wilczek, disse certa vez que a beleza existe como uma dança entre forças opostas. Primeiro, disse ele, a beleza beneficia da simetria, que ele definiu como “mudança sem mudança”. Se você girar um círculo, ele permanecerá um círculo, assim como inverter os lados de uma equação ainda revela uma verdade (2+2=4 e 4=2+2). Mas a beleza também se baseia no que Wilczek chama de “exuberância” ou complexidade emergente. Olhando para o interior de uma mesquita ou catedral, ou olhando para uma pintura clássica de Picasso ou Pollock, você não vê nem o caos total nem uma simples simetria, mas sim uma espécie de síntese; uma vertigem artística delimitada por um sentido de ordem, que confere ao conjunto da obra uma compreensibilidade apelativa.
O ensaio de Thompson pode ser lido aqui.
Essa é a ironia para um personagem como Smith, uma não-pessoa, que fala em tom monocórdio e parece absolutamente entediado com o trabalho: o ato previsível de matar, com tanto sucesso, fez com que ele perdesse a vontade de simplesmente fazer as coisas. Eis aqui a provocação de Fincher: Smith erra o tiro no começo do filme. Mas isso é um problema, necessariamente? E mais: o fato de que alguém foi atrás dele, brutalizando a sua mulher, não é algo que, por si só torna tudo mais interessante, por que arriscado? O erro leva assassinos até a casa de Smith - quase que reconhecendo o fato de que ele, afinal, existe como uma pessoa, e não como uma camuflagem - ou um dado numa planilha.
A questão do controle é uma que perpassa os filmes de Fincher. Em Alien 3, Elle Ripley descobre que perdeu o controle para o alienígena. O cenário da prisão, inclusive, representa esse “destino cerrado”, esse fechamento do seu horizonte de fuga. No fim, ela só retoma controle ao cometer suicídio - eliminando, assim, não só o alien como também a companhia Weyland-Yutani. Em Se7en, John Doe detém o controle sobre a investigação dos detetives. Eles literalmente precisam trapacear no jogo - isto é, quando Somerset entra em contato com um agente da inteligência que possui uma lista (potencialmente ilegal) de pessoas que retiraram certos livros da biblioteca para conseguir, assim, chegar até o endereço de Doe. Tal “perturbação” na “ordem” do esquema de John Doe gera uma sequência de perseguição que é quase inteiramente feita com câmera na mão - algo muito raro para Fincher, visto que ele raramente usa tal recurso (aliás, em The Killer, temos uma sequência bastante prolongada de câmera na mão, quando Smith volta até sua casa e descobre que ela foi invadida, e que sua companheira está em risco. A câmera na mão, aqui, desempenha o mesmo papel - perturbação da ordem do jogo, representado por uma câmera instável que, por sua vez, é uma extensão do próprio ponto de vista abalado do personagem).
Mas, voltando à questão do controle. Van Orton, em Vidas em jogo, é preso em um elaborado jogo que perturba o seu senso de realidade, e ele quase que perde a sua sanidade no processo. Clube da luta é, no fundo, a luta que Jack/O Narrador tem consigo mesmo; isto é, com Tyler Durden. Tocando em temas de ressentimento sexual e falta de poder está justamente na personagem que termina sendo o pivô da luta: Marla Singer (Helena Bonham Carter). Quarto do pânico é inteiramente uma luta sobre a perda de controle de seu próprio lar, forçando mãe e filha a se trancarem em quarto fortificado que as protege dos assaltantes. Zodíaco é um jogo de gato-e-rato, uma caçada a um assassino que se oculta a todo momento, e joga com cifras e códigos. Controle, vigilância e paranóia circundam os personagens, restando somente Robert Graysmith, que vê perder o controle de sua vida pessoal e, por vezes, de sua própria vida, ao se colocar em situações potencialmente arriscadas. A Rede Social é o filme sobre como Mark Zuckerberg inventou uma “janela indiscreta” digital, uma rede que permite que ele - e todas as pessoas - espiem umas às outras. O que Fincher sugere é que há algo inerentemente perverso e sexual na natureza desse empreendimento, uma vez que Zuckerberg criou o Facebook por ressentimento de ter levado um fora de uma garota (o filme também contém sugestões paranóicas de vigilância, outra constante no cinema de Fincher e que permanecem em The Killer, principalmente na sua meticulosidade em não deixar rastros). O curioso caso de Benjamin Button fala, em termos mais amplos, de se buscar um sentido para a vida quando não se tem controle nenhum sobre ela. O filme é completamente orientado na dialética (ou seria uma teleologia?) do tique-taque de um relógio - nas palavras do crítico literário Frank Kermode -, e Benjamin Button, assim como Daisy, vivem suas vidas na ilusão de que controlam alguma coisa (às vezes, controlam). Button não consegue controlar o fato de que nasceu velho e vai morrer jovem, tanto quando Daisy não consegue controlar o fato de que vai envelhecer (e o acidente - uma intervenção cruel do destino) é a primeira marca disso. House of Cards é literalmente uma série sobre a perversão dos jogos de poder e controle da política americana, assim como Os homens que não amavam as mulheres e Garota exemplar retomam temáticas semelhantes de poder e controle que já havíamos visto anteriormente em Se7en e Zodíaco. Mindhunter é uma série que toca na questão do controle em uma chave semelhante, principalmente no tocante ao fato de que os investigadores do recém-criado departamento de Ciência do Comportamento do FBI estão tentando, pela primeira vez, aplicar técnicas novas para solucionar casos de assassinato em série. Além disso, os detetives do novo departamento entram em uma briga política sobre controle de recursos com a velha elite do FBI. Por ser uma série que fala sobre os limites tênues que separam sanidade e insanidade, assim como as circunstâncias obscuras que ajudam a “criar” um serial killer, Mindhunter necessariamente toca em questões de controle que já estavam sugeridas em outros thrillers semelhantes que Fincher dirigiu. Por fim, Mank é uma batalha por controle criativo, e os inúmeros jogos de poder e controle em Hollywood. O maior exemplo de controle se dá, no entanto, na relação entre William Randolph Hearst (Charles Dance) e Marion Davies (Amanda Seyfried).
IV. Ponto de vista
Em The Killer, Fincher quer que nós vejamos o seu filme através dos olhos de seu protagonista, o assassino. Para tanto, a abertura do filme é quase que inteiramente um exercício que remete a Janela indiscreta (Real Window, 1954), de Alfred Hitchcock.
Sentado em seu ponto de vantagem em um escritório em obras (detalhe: um escritório da WeWork, uma empresa que fornece espaços de co-working, com atuação em diversas partes do mundo - ou seja, uma empresa que, tal como o McDonald’s que Smith come enquanto espera, produz não-lugares), Smith passa seus dias observando o dia-a-dia de seu alvo. Quando chega o momento em que o alvo aparece, ele está com uma amante (talvez uma prostituta). Smith mira e efetua o disparo - mas, de última hora, ele acerta a mulher, errando, portanto.
Janela indiscreta conta a história do fotógrafo L.B. Jeffries (James Stewart), um fotógrafo que sofreu um acidente enquanto fotografava uma corrida de Fórmula 1, e que se vê preso em seu apartamento, com a perna engessada. Enquanto ele é visitado por sua governanta e sua namorada (a espetacular Grace Kelly), cabe a Jeffries passar o tempo usando sua câmera e sua lente para bisbilhotar a vida de seus vizinhos. Janela indiscreta é um filme famoso por ser uma analogia do próprio ato de se assistir um filme. Nós, espectadores, tal como Jeffries, vamos ao cinema. Sentados, ocultos na sombra, assistimos uma tela (uma janela indiscreta) onde podemos espionar a vida alheia, sem que sejamos descobertos. Hitchcock, assim como Fincher, via a atividade do cinema como sendo essencialmente voyeurista, um ato com toques de perversidade fetichista. O diretor inglês retornaria a isso diversas vezes em seu filme, talvez mais famosamente em Hitchcock, quando Norman Bates (Anthony Perkins) espia Marion Crane (Vera Miles) se despindo em seu quarto de motel através de um buraco oculto na parede (a sugestão é que Bates se masturba ao fazer isso).
Janela indiscreta, no entanto, vai além. É um filme sobre uma determinada forma de se narrar o cinema. Primeiro, Hitchcock nos mostra como se dá a narração “clássica” (consagrada em Hollywood); isto é, através do plano (A) e contra-plano (B), ou esquema ABAB. Plano: o rosto de Jeffries; contra-plano: o que ele vê. Esse esquema ABAB gera um padrão para o espectador e, toda vez que o diretor empregar uma mudança, seja introduzindo um novo, terceiro enquadramento (ABABC) ou seja empregando alguma mudança interna nos enquadramentos A e B, como um movimento de câmera, é para sinalizar ao espectador uma quebra no padrão. Ao fazer isso, o espectador fica atento a um algum detalhe narrativo importante que o diretor quer nos mostrar. Nesse sentido, o espectador é como Jeffries, um investigador que fica observando os vizinhos, incólume, e reunindo pistas de evidência ao observar o comportamento deles. O primeiro traço de ruptura é o desaparecimento da esposa de Lars Thorwald (Raymond Burr). Isso é semelhante ao que Fincher faz em seus filmes de investigação, onde os investigadores buscam os padrões nas pistas que os assassinos deixam. Em Zodíaco, em um determinado momento, o detetive Toschi (Mark Ruffalo) nota que o assassino está, inclusive, “quebrando o padrão” para despistá-los.




E isso é o segundo ponto levantado por Hitchcock em Janela indiscreta: ao concentrar na visão de Jeffries, o filme nos é narrado do seu ponto de vista. A não ser em alguns poucos momentos cruciais, a câmera nunca sai do apartamento apertado de Jeffries, e ficamos quase que inteiramente confinados em ao seu ponto de vista. Ou seja: o que Jeffries sabe, nós também sabemos. Hitchcock por vezes quebra essa regra, mas faz isso de modo deliberado, para gerar suspense. Por exemplo: em um momento, Jeffries dorme, mas Hitchcock nos mostra Thorwald saindo misteriosamente de seu apartamento, carregando um baú (posteriormente descobrimos que sua esposa, esquartejada, está dentro dele).
Fincher tomou isso como um dos seus pilares formais. Toda a filmografia de Fincher é construída sobre a construção do ponto de vista, e seus filmes são variações sobre o mesmo exercício proposto por Hitchcock. Em Se7en e Zodíaco, por exemplo, nós ficamos presos aos pontos de vista dos detetives e investigadores que perseguem os assassinos. Nunca Fincher corta para o covil dos assassinos, e essa parte da narrativa permanece oculta para nós. Em A Rede Social, Fincher explora o ponto de vista Hitchcockiano na mesma chave de Orson Welles, em Cidadão Kane (Citizen Kane, 1941) e Rashomon (idem, 1950), de Akira Kurosawa. Os múltiplos pontos de vista dos participantes da criação do Facebook geram uma narrativa multifacetada, contraditória e ambígua. Explorar a criação do Facebook é explorar o próprio Mark Zuckerberg, e o jovem magnata da tecnologia é retratado de maneira idêntica a como o magnata do jornalismo de Welles; isto é, como um “labirinto sem centro” (nas palavras de Jorge Luís Borges).
O curioso é que o ponto de vista de The Killer é o do próprio assassino, ele mesmo uma figura enigmática (também é um labirinto sem centro). Ancorar a narrativa de um filme no ponto de vista de um personagem amorfo é no mínimo algo ousado por parte de Fincher, e o resultado é, no mínimo, enigmático. The Killer é construído como uma charada, do começo ao fim, e justamente por isso ficamos sem respostas ao final do filme.
V. Empatia e psicopatia
SMITH: Proibir empatia. Empatia é fraqueza. Fraqueza é vulnerabilidade. [Forbid empathy. Empathy is weakness. Weakness is vulnerability.]
Essa questão do ponto de vista é especialmente interessante em The Killer pois, no caso, Fincher nos coloca no ponto de vista do assassino em si. Tais personagens geralmente são opacos em seus filmes. A primeira aparição de John Doe em Se7en é, afinal, como uma silhueta (e ele veste um traje semelhante ao que Smith usa no início de The Killer). O Zodíaco é quase sempre visto à distância (nos deixando como testemunhas oculares dos seus crimes). O momento em que mais conseguimos vê-lo de perto é quando ele ataca o casal no lago Berryessa, trajando vestes escuras e um capuz preto - ou seja, como uma sombra.
The Killer nos abre mais um tema, um que é recorrente na filmografia de Fincher mas que tem ganhado protagonismo nos últimos anos: a empatia. Sabemos que uma das características definidoras da psicopatia é justamente a incapacidade do psicopata de sentir qualquer forma de empatia (e, portanto, sua incapacidade de ter sentimentos mais profundos ou mesmo uma consciência). Assassinos em série, não obstante sejam inteligentes, são pessoas banais, supérfluas, até mesmo enfadonhas.
Um retrato bastante revelador dessa personalidade “chapada” e “amorfa” de psicopatas e assassinos em série são as entrevistas que os investigadores conduziram com Dennis Rader, o infame B.T.K. (Bind Torture Kill), que conseguiu escapar a captura por 30 anos.
Rader descreveu seus crimes no mesmo tom monótono que a maioria das pessoas reserva para falar de tarefas rotineiras (…) Sabe, eu estrangulei cães e gatos, mas nunca tinha estrangulado uma pessoa antes. (…) Estrangulamento é um jeito difícil de matar uma pessoa, sabe, elas não apagam em um minuto como nos filmes (…) Eu achava que quando você estrangulava uma pessoa, ela estaria liquidada”. Mas se um pouco de oxigênio entrar nas vias respiratórias, “você volta a si (…) Você sabe que está sendo estrangulado, essa é a sua tortura”.
BTK: A MÁSCARA DA MALDADE, Roy Wenzl, Tim Potter, Hurst Laviana, L. Kelly. Págs. 336-337.
E mais adiante:
O próprio Rader, conversando francamente com os detetives durante o interrogatório que durou 33 horas, disse que nada em sua família ou em seu passado o transformou no que era. Alegou que a explicação que fabricara - a de que havia um demônio dentro dele, um monstro que o controlava, o “Fator X”, como às vezes o chamava - era a única que fazia sentido. Como entender um homem que fez muitos amigos, mas estrangulou pessoas, que criou dois filhos com muito amor, mas que matou crianças? (…) Por conversar com assassinos o tempo todo, eles sabiam que a personalidade de muitos deles parece ser moldada por um egocentrismo insensível. Tudo gira em torno deles; a culpa é sempre dos outros; a culpa é sempre de “fatores” - como foram criados, ou o fato de estarem bêbados e fora de si quando mataram um bebê. Grande parte dos assassinos relata algum tipo de justificativa após serem presos para se recusar a aceitar a responsabilidade por seus atos. Os policiais ouvem pretextos dos assassinos com tanta frequência que acabam ficando entediados com esse tipo de conversa. No fim das contas, Rader pode ter angariado mais publicidade do que a maioria dos assassinos, mas, aos ouvidos de seus interrogadores, suas justificativas não soavam nem um pouco originais ou interessantes.
Então por que ele cometeu aqueles crimes? Por que um escoteiro se torna um assassino em série, enquanto outros escoteiros como Kenny Landwehr, Kelly Otis e Dana Gouge se tornam investigadores que o caçam e o jogam atrás das grades? Segundo Landwehr, tudo se resume a uma única coisa: nós todos fazemos escolhas. Rader fez as dele - e dez pessoas morreram. (…) “Sei que não é uma coisa muito legal para falar sobre uma pessoa, mas elas eram basicamente um objeto.”
BTK: A MÁSCARA DA MALDADE. Págs. 381-382.
Enxergar as pessoas como um objeto, a ser usado e, depois, descartado, é típico do pensamento de psicopatas e assassinos. Mindhunter, do ponto de vista formal, nos mostra que a tática do FBI de “caçar mentes” é através do uso da empatia. Os investigadores precisam se colocar na cabeça dos serial killers que perseguem para, assim, entender e antecipar os seus próximos passos, assim como escolhas de vítimas. O perturbador, ao longo de toda série, é que Fincher nos mostra como tal técnica é frágil não por sua eficiência, mas sim pelo fato de que, se for mal aplicada, ela pode destruir a vida de uma pessoa inocente.
No oitavo episódio da primeira temporada (episódio dirigido por Fincher), Holden Ford destrói a vida de um pacato professor de pré-primário pois acredita que este seja, no fundo, um pedófilo. O sujeito é humilhado, tem sua reputação manchada e termina demitido de seu emprego, se trancando em casa com depressão. Sua esposa vai até o apartamento de Holden, e o confronta no corredor do prédio. O uso magistral de plano e contra-plano é uma inversão que Fincher faz de uma cena semelhante em Se7en. Aqui, Holden se transforma em sombra.
Fincher nos sugere que Smith não é um assassino como John Doe, o Zodíaco ou os diversos outros que ele aborda em Mindhunter, Os homens que não amavam as mulheres e Garota exemplar (ou, então, o Frank Underwood de House of Cards). Ele precisa se treinar, se condicionar a ser uma pessoa sem empatia e sentimentos. Por isso salta aos olhos o uso que Fincher faz de câmera na mão. Em Se7en, a câmera na mão era usada para acompanhar Somerset e Mills (este principalmente), os perseguidores de John Doe. Em The Killer, a câmera na mão acompanha Smith. Ele sofre abalo psicológico, ele que sente o seu mundo sair do controle e perder a estabilidade calma e fria. Mesmo o seu semblante, passivo, onde ele cultiva uma falta de forma e definição tal qual John Doe, traduzem o seu medo e insegurança. The Killer é um filme sobre educação sentimental.
VI. Destino
SMITH: Percebi que o momento de agir não é quando o risco é maior. Os verdadeiros problemas surgem nos dias, horas e minutos que antecedem a tarefa, e nos minutos, horas e dias seguintes. Tudo se resume à preparação. Atenção aos detalhes. Redundâncias. Redundâncias. E redundâncias. [I've come to realize that the moment when it's time to act, is not when risk is greatest. The real problems arise in the days, hours, and minutes leading up to the task, and the minutes, hours, and days, after. It all comes down to preparation. Attention to detail. Redundancies. Redundancies. And redundancies.]
Uma das coisas que me chamou a atenção, logo no início de The Killer, é no paralelo que Fincher faz com Comboio do medo (Sorcerer, 1977), de William Friedkin. Inclusive, Smith se veste de forma idêntica a Nilo (Francisco Rabal) - personagem que é, também, um assassino de aluguel.
Sorcerer é um filme que revela muitas coisas sobre The Killer. Para começo de conversa, é a obra-prima de Friedkin. Mas é, também, um filme que simboliza a própria Nova Hollywood, um momento de renascimento do cinema norte-americano. É a geração de Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Sam Peckinpah, Peter Bogdanovich, Michael Cimino, Robert Altman, Roman Polanski e diversos outros cineastas que vieram a se tornar titãs do cinema. Muito do cinema desse período (grosso modo, 1967-1977) são marcados por uma renovação dos gêneros clássicos hollywoodianos por diretores jovens, muitos deles oriundos das primeiras faculdades de cinema do país, e também de um maior contato com vanguardas renovadoras do mesmo período, como a Nouvelle Vague francesa e o Neorrealismo italiano. Além disso, os filmes da Nova Hollywood foram bastante influenciados pelas convulsões sociais e políticas pelas quais o país passava, como a Revolução Sexual e a Guerra do Vietnã. As obras lançadas nesse período também tiraram vantagem do fato de que o Código Hayes, o código de censura moralista que regulou o cinema norte-americano por décadas, ruiu. Os filmes dessa década são marcados não só por representações mais gráficas de sexo e violência mas, também, por uma visão de mundo mais sombria, pessimista e mesmo realista. A principal instituição estética e formal que ruiu neste período foi o famigerado “happy end” hollywoodiano. Friedkin foi um dos mais bem-sucedidos do período, com blockbusters como Operação França (The French Connection, 1973) e O Exorcista (The Exorcist, 1973). Sorcerer é um filme que contém todos esses elementos, e mais.
O filme acompanha quatro personagens. Nilo, como já falamos, é um assassino de aluguel que executa um alvo no México. Cortamos para Jerusalém, onde Kassem (Amidou), um terrorista palestino, executa um atentado, e foge das forças israelenses. Vamos, em seguida, para Paris. Victor Manzon (Bruno Cremer) é um especulador financeiro, acusado de fraude. Ele vê o cerco fechar em torno de si, principalmente depois que o seu primo, que estava envolvido no esquema, comete suicídio. Manzon, assim, como os outros três, também foge. Por fim, chegamos em Nova York, onde uma gangue irlandesa ataca uma igreja católica, que possui conexões com a máfia italiana, rival. Durante a fuga, os irlandeses morrem, e somente Jackie (Roy Scheider), consegue escapar.
Reencontramos os quatro personagens em Povernir, uma nação sul-americana fictícia. O lugar é um purgatório, a antessala do inferno. Regida por um ditador sanguinário, a população vive em miséria absoluta, enquanto os políticos vivem uma vida nababesca - Povernir é rica em petróleo, que é extraído por empresas estrangeiras. A vida dos quatro fugitivos é um pesadelo, e todos sonham com a possibilidade de fuga. Esta se apresenta quando um dos poços de petróleo começa a pegar fogo (após um ataque a bomba). O único jeito de conter o incêndio é explodindo o poço com dinamite. O problema é que a dinamite está do outro lado do país, e o trinitrotolueno está vazando das caixas. Qualquer perturbação pode levar a uma explosão. Para isso, a companhia de petróleo começa a recrutar motoristas que estão dispostos a arriscar suas vidas para transportar o TNT. Os quatro fugitivos veem isso como uma oportunidade de ganharem o dinheiro necessário para escaparem de Povernir.
O restante do filme é a viagem até o poço de petróleo. Friedkin constrói uma tensão insuportável. Sorcerer é um filme de suspense febril, que corre por menos de 2 horas (assim como The Killer). Apesar de empregar uma linguagem neorrealista, com bastante uso de não-atores, locações reais, iluminação natural e câmera na mão (num estilo documental), o longa é marcado por um simbolismo metafísico (as chamas do poço do petróleo são como o inferno - o “andar de baixo” - irrompendo no purgatório) e uma atmosfera que beira o sobrenatural. Se precisarmos resumir o tema de Sorcerer, ele é nada menos que um filme sobre a crueldade do destino. O próprio título do filme aponta para isso: Sorcerer significa “feiticeiro maligno”. Quem é o feiticeiro? Ora, William Friedkin, é claro.
O destino - isto é, Friedkin - atua em todas as cenas de Sorcerer. O primeiro ato do filme, em que os quatro personagens são apresentados, nos revelam não só que os protagonistas são criminosos brutais, mas também que eles são levados a Povernir por que seus atos de violência não ocorreram exatamente como previsto (semelhante ao tiro errado no começo de The Killer). Uma vez que eles estão condenados neste purgatório (que não passa de um “não-lugar”), vivendo existências miseráveis com identidades falsas, o destino mais uma vez revela uma possibilidade de fuga: percorrer uma trajetória mortal. O filme começa a ganhar contornos cada vez mais sobrenaturais. Friedkin faz isso com o emprego de trilha sonora do conjunto alemão Tangerine Dream. O sintetizador eletrônico das músicas conferem uma atmosfera surreal, por vezes fantasmagórica. Na famosa sequência onde o caminhão precisa atravessar uma ponte de madeira no meio de uma tempestade violenta, podemos quase que escutar um sopro - bem, os músicos do Tangerine Dream de fato empregaram sopro na música em questão.
Todo esse elemento temático e estético de Sorcerer remetem, claro, a Fritz Lang. O diretor via o destino como o principal tema de sua obra, e o crítico Tom Gunning, inclusive, cunhou o conceito de “máquina-Destino” para mostrar como Lang emprega esteticamente este elemento em seus filmes. Friedkin era um cineasta devoto a Lang (assim como Peter Bogdanovich, Alfred Hitchcock, Christopher Nolan e Michael Mann), chegando inclusive a gravar um documentário sobre o mestre austríaco. Sorcerer é seu filme mais langiano, onde Friedkin inclusive incorpora elementos específicos da estética de Lang. Um deles é o “personagem visionário”.
É comum que os protagonistas de Lang, num determinado momento, percebam que o mundo em que eles vivem - seja a Alemanha mítica de Os Nibelungos (Die Nibelungen, 1922), seja a América contemporânea de Almas corruptas (Scarlet Street, 1944) - é regido por uma força invisível, aparentemente cega e implacável. Ao perceberem isso (e Lang geralmente usa um cross dissolve para retratar essa percepção que vê além do “véu que encobre a realidade”), os personagens praticamente enlouquecem. Somente eles podem ver a máquina-Destino, o que os aliena de seus pares; e, ao entenderem que o mundo em que vivem é falso, incapaz de lidarem com verdade perversa que rege suas existências, eles enlouquecem - e geralmente morrem. Pois é exatamente o que ocorre com Jackie ao final de Sorcerer.
Como o único sobrevivente do comboio, Jackie é assolado por visões sobrenaturais. O visual se distorce, o som se distorce. Nilo, morto, parece voltar à vida, somente para gargalhar de Jackie. Aqui, ele se tornou o personagem visionário e, mesmo sobrevivendo ao final, ele morreu. Pois Sorcerer termina com Jackie, apático, uma casca de homem, aguardando o seu avião chegar. E o avião enfim chega e, com ele, assassinos da máfia italiana. Eis a crueldade do destino: o deus ex machina (o avião) que deveria salvá-lo serve, na verdade, para matá-lo.
Lang, como Fincher, era um cineasta profundamente preocupado com o desenvolvimento da tecnologia na sociedade moderna. Seus filmes, em especial os da fase norte-americana, adotam protagonistas que são homens comuns, de classe média (para Lang, tal conceito era novo: ele cresceu e viveu metade de sua vida no Império Austro-Húngaro, onde não existia, de acordo com ele, a ideia de “homem comum de classe média”), que descobrem que o mundo moderno, democrático e capitalista em que vivem é uma tênue fachada (mentirosa) que encobre uma realidade que foi percebida, na verdade, pelos gregos antigos. Lang, no fundo, diálogo com as obras de Sófocles, Ésquilo e Eurípedes. O que Lang percebe, no entanto, é que o destino (trágico) dos gregos antigos foi convertido em tecnologia no mundo moderno. Vigilância, guerra (Lang, como diversos outros de sua geração, foi um exilado do terror tecnológico nazista), meios de comunicação de massa: todos meios que os seres humanos criaram para tentarem controlar a realidade. É a partir deste entendimento que Gunning cunha o termo máquina-Destino: a forma que o ser humano, na modernidade, encontrou para criar os seus próprios mecanismos de controle. E, ao contrário de Hitchcock, o uso da visão, e do ponto de vista, em Lang, difere. A perversão se torna destino, e a loucura é nada mais que a compreensão de que vivemos em uma realidade falsa, mentirosa.
A trama de educação em The Killer é eminentemente langiana.
VII. Invisibilidade
Para além de luz e sombra, há também a questão da invisibilidade. Smith é um assassino extremamente bem-sucedido e competente. É podre de rico - a consequência de seu talento. Mas o irônico é que ele é bem-sucedido justamente por ser invisível. Seu trabalho não deixa marcas. Ele não tem assinatura. Um dos temas do filme é justamente a capacidade de ser reconhecido. Isso é uma fraqueza: o brutamontes da Flórida (Sala Baker) é reconhecido por seu tamanho gigantesco, ao passo que a Especialista (Tilda Swinton) é reconhecida por se parecer com um cotonete. Os dois assassinos erraram não só porque não terem conseguido matar Smith ou sua companheira, mas por terem deixado rastros. Uma identidade. Ao confrontar o homem que os contratou, o Cliente/Claybourne (Arliss Howard), este sequer tem ideia de quem Smith é. Ele só se torna reconhecível quando erra - algo que poderíamos dizer sobre o próprio estilo narrativo clássico hollywoodiano, cujo principal expoente, Howard Hawks, era justamente reconhecido pelo seu estilo invisível. Dado o fato de que boa parte da crítica tem desdenhado dos últimos filmes de Fincher (e mesmo alguns de seus primeiros), creio que Fincher também esteja olhando para trás em relação ao seu próprio estilo (que, no entanto, tem sido copiado recentemente - principalmente por Matt Reeves, em O Batman).
É comum que críticos de Fincher o considerem um mero artesão, um técnico capaz em determinados gêneros, mas que tropeça quando sai de sua zona de conforto, em dramas como O curioso caso de Benjamin Button e Mank. A Rede Social é a exceção que confirma a regra.
Errado.
Fincher possui um estilo próprio, uma marca autoral única, que perpassa múltiplos temas, assuntos e uma visão de mundo que evolui ao longo do tempo, e se organiza esteticamente de uma maneira que é bastante coerente. Mas é uma assinatura praticamente invisível, que deixa poucos traços. Resta, a nós, segui-los.
VIII. Olhando para trás
Não consegui chegar a nada, nem mesmo tornar-me mau: nem bom nem canalha nem honrado nem herói nem inseto. Agora, vou vivendo os meus dias em meu canto, incitando-me a mim mesmo com o consolo raivoso - que para nada serve - de que um homem inteligente não pode, a sério, tornar-se algo, e de que somente os imbecis o conseguem. Sim, um homem inteligente do século dezenove precisa e está moralmente obrigado a ser uma caricatura eminentemente sem caráter; e uma pessoa de caráter, de ação, deve ser sobretudo limitada. Esta é a convicção dos meus quarenta anos. Estou agora com quarenta anos; e quarenta anos são, na realidade, a vida toda; de fato, isso constitui a mais avançada velhice. Viver além dos quarenta é indecente, vulgar, imoral! Quem é que vive além dos quarenta? Respondei-me sincera e honestamente. Vou dizer-vos: os imbecis e os canalhas.
MEMÓRIAS DO SUBSOLO, Fiódor Dostoiévski. Tradução de Boris Schnaidermann. Pág. 17.
The Killer é, de certa forma, Fincher olhando para trás em sua filmografia. Não só o personagem principal remonta aos seus protagonistas de anteriormente (e, portanto, às suas obsessões temáticas e estéticas). Isso se dá inclusive pelo fato de que é sua primeira parceira oficial com o roteirista Andrew Kevin Walker desde Se7en, de 1995 (Walker também contribuiu em diversos roteiros de filmes de Fincher ao longo dos anos, mas sempre sem receber créditos).
Parte do enigma do filme é uma constante nos filmes de Fincher: porque as pessoas fazem o que elas fazem? É uma pergunta que Fincher se fez explicitamente em Mank: Porque Herman Mankiewicz teve a sacada de Cidadão Kane? Como funciona a mente do criador? Há um mistério nisso, e Fincher sempre foi envolvido com a ideia de tentar decifrar o funcionamento não só da cabeça do criador, mas da cabeça do artista. Mindhunter é, afinal, uma série dedicada exatamente a este propósito.
Fincher sempre usou serial killers como duplos de artistas. Isso não é uma invenção dele, claro, é uma constante na literatura policial e de crime, de S.S. Van Dyne (cujo investigador, Philo Vance, é um dândi que trabalha como crítico de arte) até os romances de Thomas Harris. Mas Fincher, desde Se7en, gosta de entender como serial killers dedicam suas vidas a crimes que serão investigados, debatidos e revisitados em retrospectivas em anos porvir. Os crimes de John Doe formam um painel de arte, e os pontos que os ligam são, justamente, a narrativa que Doe forma. O mesmo vale para o Zodíaco e suas cartas e códigos crípticos. E o mesmo vale para Herman J. Mankiewicz.
Nos últimos anos, não só com Mank, mas também com o projeto VOIR (produzido por Fincher, David Prior e Tony Zhou, o crítico por trás da série de vídeo-ensaios Every frame a painting), para a Netflix, onde críticos, escritores, comentadores e cineastas debatem e analisam clássicos do cinema, Fincher tem se voltado cada vez mais ao próprio cinema. Mas essa é uma tendência que podemos traçar até pelo menos Garota exemplar.
Na superfície, Garota exemplar é mais um thriller de David Fincher. Apesar de ter sido um estrondoso sucesso comercial, e no geral bem avaliado pelo público, parte da crítica expressou um certo desapontamento com Fincher. Após dramas de prestígio como O curioso caso de Benjamin Button e A rede social (onde Fincher se viu concorrendo ao Oscar de Melhor Filme), e também da revolucionária série política House of Cards, Garota exemplar foi lido como um passo atrás: mais um thriller, com uma personagem que é basicamente um John Doe de saias (Amy, interpretada por Rosamund Pike), e um que ainda por cima é adaptado de um romance bestseller, um page turner (ou “livro de aerporto”). É como se Fincher não conseguisse escapar das amarras dos gêneros que fizeram a sua fama - e, pior, num filme que é repleto de viradas improváveis, que forçam a lógica e a “suspensão da descrença”. Ocorre que esse é precisamente o propósito do filme. No caso, é Fincher tirando sarro não só do tipo de filme que o consagrou, como também do tipo de filme que ele - Fincher - faz. Num filme de Fincher, esperamos uma trama complexa, cheia de reviravoltas surpreendentes. Esperamos um criminoso genial, um mastermind que passa uma rasteira em todos. Esperamos violência. Esperamos perversidade.
Amy faz tudo isso - inclusive, em uma cena, vemos que ela tirou sua inspiração após consumir manuais forenses, romances baratos de suspense, livros sobre investigações de crime verídico e seriados documentais de crime verídico. Garota exemplar é um filme metaficcional, onde o que vemos não é uma investigação, onde pistas são descobertas e analisadas, mas sim onde narrativas são montadas (Fincher inclusive faz uma crítica mordaz ao jornalismo), e os policiais e civis envolvidos se veem não só como personagens dessas narrativas, mas como críticos dela. E quanto à violência? Bem, Amy re-aparece em público vestindo somente suas roupas de baixo, e coberta de sangue, da cabeça aos pés. Por fim: Fincher é conhecido como um herdeiro de Hitchcock, e ele termina o filme com uma referência explícita à cena mais famosa do filme mais famoso do mestre inglês.
Alguns dos livros que Amy está estudando: “Helter Skelter”, de Curt Gentry e Vincent Bugliosi, sobre os assassinatos comandados por Charles Manson; “Death of a Jewish American Princess: The True Story of a Victim on Trial”, de Shirley Frondorf, que conta a história de como um homem conseguiu ser inocentado em um tribunal, mesmo após ter matado sua esposa com 26 facadas (e os advogados de defesa conseguiram isso transformando a vítima em uma vilã); “Pure Murder”, de Corey Mitchell, sobre o brutal assassinato de duas meninas por uma gangue de adolescentes; “King of the Godfathers”, de Anthony DeStefano, sobre a investigação que derrubou a família mafiosa Bonnano; “Because you loved me”, de M. William Phelps, também sobre crime passional, onde um marido assassinou a esposa a facadas.
The Killer, portanto, continua nesta mesma tendência. Não é só Fincher tirando um sarro de si mesmo, no entanto. Ele volta às suas origens e reexamina os seus métodos e a sua obra. Diversas falas de Smith poderiam ter saído da boca do próprio Fincher.
SMITH: Atenha-se ao seu plano. Antecipe, não improvise. Não acredite em ninguém. Nunca dê uma vantagem. Lute apenas a batalha para a qual você foi pago. [Stick to your plan. Anticipate, don't improvise. Trust no one. Never yield an advantage. Fight only the battle you're paid to fight.]
SMITH: De alguma forma, os trabalhos concebidos para fazer barulho são sempre os mais tediosos. Na verdade, aprendi a apreciar o trabalho de proximidade. Acidentes encenados. Envenenamentos graduais. Qualquer coisa com um pouco de criatividade. Quando foi meu último e tranquilo afogamento? [Somehow, jobs that are designed to rattle a cage are always the most tedious. I've actually grown to appreciate proximity work. Staged accidents. Gradual poisonings. Anything with a little creativity. When was my last, nice, quiet drowning?]
O tom monocórdio, quase cansado, pode trair uma ideia de Fincher em crise. E, por quê não? Pode ser mesmo que ele tenha estado em crise. Ele já entrou em crise com o seu próprio jeito de dirigir.
O método exaustivo, detalhista e demorado de Fincher é algo que é quase sempre retratado na mídia. O fato de que ele filma com múltiplas câmeras, e faz uma média de 70 a 120 takes, ou então que ele leva semanas para editar uma sequência (a sequência de abertura de A rede social, por exemplo, com Mark Zuckerberg levando um pé na bunda, levou um mês para ser montada), ou ainda que ele planeja filmes minuciosamente, muitas vezes por anos, é algo muito conhecido e publicizado a respeito de Fincher. Mas ele mesmo já entrou em uma crise profunda por causa disso.
Originalmente, Quarto do pânico era para ter sido um filme de animação, inteiramente em CGI (uma animação adulta e hiperrealista, como vemos em diversos episódios de Love Death Robots, produzida por Fincher). Parte disso foi por experimentalismo, parte disso porque Fincher sempre foi fascinado pelo absoluto controle que a animação dá ao diretor - especialmente sobre os “atores”. Uma vez que o estúdio não aprovou que o filme fosse realizado como uma animação, Fincher partiu para o mais próximo disso: produziu centenas de storyboards, e foi uma das primeiras produções hollywoodianas a empregar animatics - animações em CGI onde o diretor pré-visualiza as sequências que pretende filmar. Animatics são comuns em filmes de ação e com muitos efeitos especiais, pois ajudam não só o diretor, mas também os atores e os técnicos a visualizarem sequências complexas e caras antes de filmarem. Ocorre que Fincher produziu um animatic de todo o roteiro de Quarto de pânico e, quando ficou satisfeito, começou a dirigir o filme seguindo o que ele mesmo havia pré-planejado. E, então, o destino interviu.
Quarto do pânico seria estrelado por Nicole Kidman, mas a atriz australiana quebrou o tornozelo durante as filmagens. Fincher já havia filmado um terço do longa, e foi obrigado a recomeçar. Ele simplesmente entrou em breakdown durante o processo de filmagem, que se tornou um estresse inacreditável sobre equipe e elenco. Jodie Foster, ela mesma uma diretora talentosa, convenceu Fincher a “se soltar”. Ninguém compreendia a obsessão detalhista de Fincher, nem mesmo ele.
Ao invés de abandonar inteiramente os seus métodos, Fincher se tornou focado nele. Claro, ele continua dirigindo 70 takes de uma cena, mas ele faz isso de uma maneira onde ele sabe qual é o objetivo que precisa cumprir com aquilo - no caso, se abrir para o acaso. Ao invés de dirigir atores excessivamente até chegar no resultado que Fincher planejou meses atrás, ele os dirige para que eles revelem algo que estava oculto até mesmo para os próprios atores. É um método que inclusive lembra muito o de Robert Bresson, que buscava captar uma essência ali, um real que se oculta por trás de técnicas de intepretação e outros vícios automáticos. Diversos diretores ambicionam a mesma coisa, mas por métodos diferentes. Fincher, no caso, precisou descobrir que a beleza do processo está, justamente, em ser surpreendido. Quarto do pânico foi a sua “trama de educação”, e ele submete Smith ao mesmo tratamento de pânico em The Killer.
The Killer também é uma retrospectiva no sentido em que vemos Fincher olhando para trás e para os filmes que ele faz (thrillers, NeoNoirs etc) - e como eles funcionam. A presença de Andrew Kevin Walker aqui é fundamental. The Killer pega a graphic novel de Matz e a reduz completamente. O filme é quase esquemático - quase não há personagens, mas sim arquétipos. Peças que se movem um tabuleiro, semelhante a como vemos em The Driver (Caçador de morte, 1978, de Walter Hill) - uma narrativa que é completamente reduzida à sua essência, onde temos mais uma escaleta que um roteiro, mais uma descrição de personagens do que personagens em si. The Killer, The Driver… The Director.